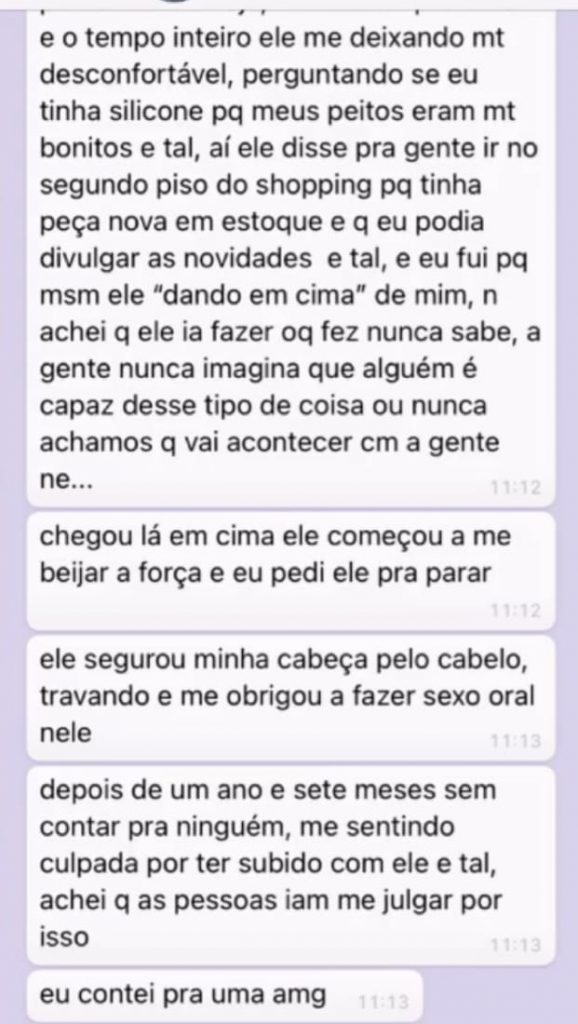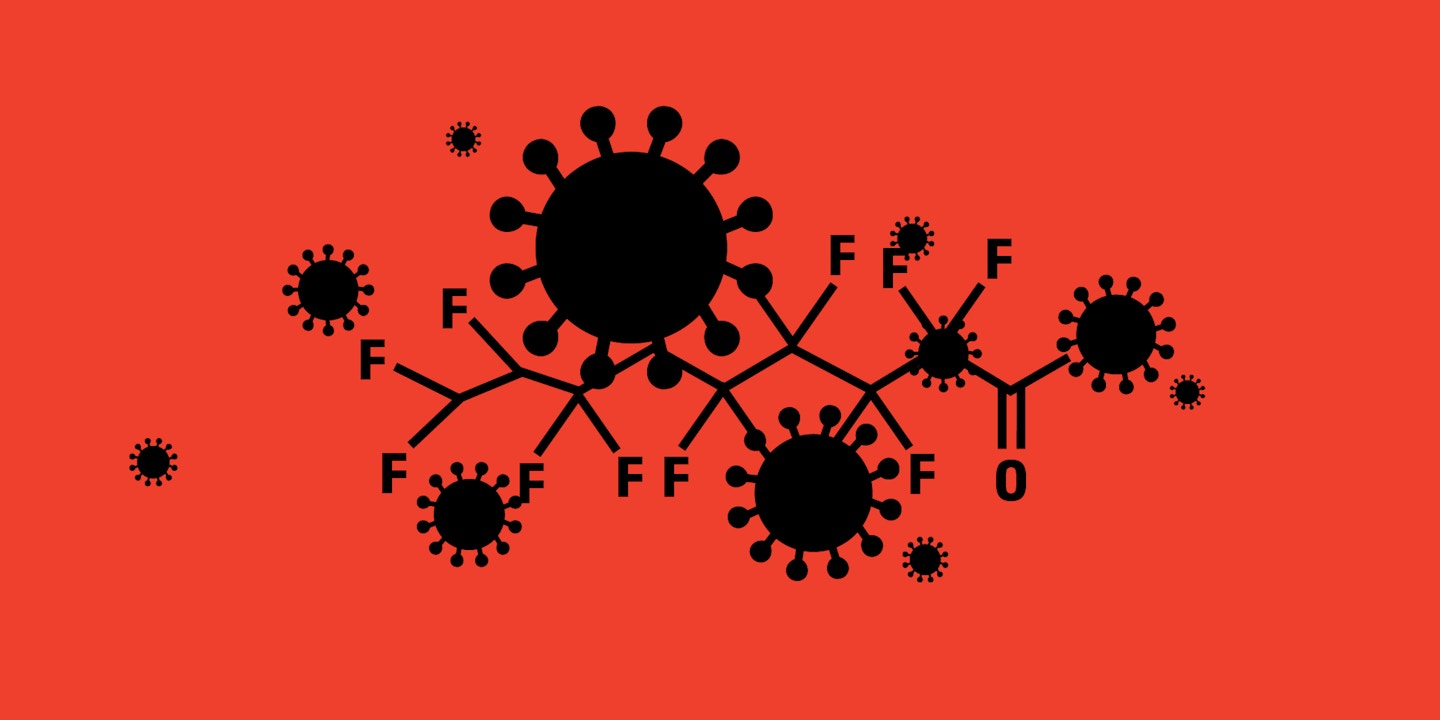É BEM COMUM, entre jornalistas, publicizar o esforço empreendido na realização das suas matérias e reportagens. Informar, por exemplo, que percorreram milhares de quilômetros para encontrar pessoas e cidades ou que passaram meses, até anos, para concluir uma investigação. Muitas vezes, a ideia é passar a sensação de que o diferente, o não visto, o “exótico”, está muito longe, que é preciso atravessar muitas léguas para fazer esse oculto emergir.
Na apuração deste texto, eu não cheguei a deixar a rua de minha casa. Saí apenas duas vezes e, em ambas, andei alguns minutos, no máximo uns 700 metros. Na primeira vez, encontrei Fábio e Ricardo. Na segunda, Mateus, Adriano e Ronald.
Todos eles, que passam o dia por perto, mas não são meus vizinhos, seguram espécies de placas (na verdade, tampas de caixas de isopor ou pedaços de papelão) e circulam com elas sobre o peito ou acima da cabeça entre os sinais de trânsito. Ali, podemos ler:
“Meu filho precisa de alimento” (Fábio)
“Tenho dois filhos preciso de ajuda alimento” (Ricardo e Adriano)
“Estou com fome” (Mateus e Ronald)
Eles fazem parte de um enorme contingente da população brasileira que, desde o início da pandemia, vem sobrevivendo graças à utilização desse recurso quase publicitário para se fazer ver. É uma forma de falar mais alto, de colocar o corpo em letra maiúscula. Em várias cidades do país, desde março, eles se multiplicaram pelas ruas: aqui, vejo constantemente seus corpos, geralmente muito magros e geralmente muito pretos, ziguezagueando trajetórias entre carros, motos, bicicletas, vendedores de frutas, de água, de doces, limpadores de para-brisas, de flanelas.
Três deles – Fábio, Ricardo e Adriano – têm filhos. Mateus e Ronald são os mais jovens e filhos de alguém. Os primeiros precisam pagar aluguel de precárias casas de alvenaria ou tábuas, todas em lugares insalubres, mas que representam a rentabilidade de quem as construiu: custam R$ 200 (Fábio), R$ 150 (Ricardo), R$ 180 (Adriano) por mês. É o dinheiro mais guardado para evitar que eles, como tantos que conhecem, terminem dormindo pelas ruas.
Os aluguéis das casas dos três pais de família – falarei breve sobre elas – custam mais barato do que um botijão de gás completo em uma revendedora do produto: cerca de R$ 248, incluindo a entrega, aqui no Recife.
Assim, na casa de todos, menos de Fábio, cozinha-se com álcool. Um fogareiro feito com tijolos, uns pedaços de madeira. No Hospital da Restauração, um dos maiores do Nordeste, a conhecida “ala dos queimados” é ocupada em sua maioria justamente por pessoas que se acidentaram usando o produto para preparar alimentos.
Outros, para baratear os custos, compram botijões clandestinos, que não seguem padrões de segurança e são mais baratos. Muitos já explodiram. É uma questão gravíssima, antiga e que se aprofundou após a covid-19. Já destruiu a vida de muitas famílias, mas, como geralmente são muito magras, como geralmente são muito pretas, como geralmente são muito pobres, entrou no que é considerado normal.
Foi para tentar escapar dessa “normalidade” – no limite, ela significa apagamento e morte – que Fábio Rocha, 26 anos, passou a ir com a esposa Andrea Cabral, 37, para os sinais de trânsito usando a tampa de caixa de isopor. Fizeram-se maiúsculos. Ele segura uma placa, ela outra – no momento em que fui conversar com o casal, Andrea tinha ido para casa, a cerca de 4 quilômetros dali, para almoçar. Sua placa estava encostada no muro de um prédio, na encruzilhada de ruas.
Fábio catava papelão para vender, seguindo os passos do pai, carroceiro. “Mataram ele”, me conta, mostrando os braços com o nome “Rivaldo” tatuado, uma homenagem póstuma. No seu corpo, ainda lemos “Walison”, “Laura” e “Vitória” (seu filho e suas filhas); Andréa (seu amor); “Fábio” (sua necessária autoestima); e, nas mãos, Jesus Cristo (seu refúgio).
É a segunda placa que Fábio usa. Começou a lançar mão do recurso há cinco meses, quando o isolamento tornou o negócio da reciclagem impossível de ser mantido. Na primeira, escreveu “preciso de trabalho”. Dias depois, percebeu, olhando outras pessoas que também circulavam pedindo ajuda nos sinais de trânsito, que falar sobre os filhos e filhas garantia uma ajuda maior. “Te dão mais roupas, mais comida, mais trocados. Sabendo que a gente tem filho, mais gente nos olha.”
(Fábio continua precisando de trabalho).
Nesses dias, o carroceiro deu sorte: ganhou um fogão e um botijão e assim deixou de usar, ao menos temporariamente, o perigoso álcool para fazer almoço, café. “A gente não podia comprar. O dinheiro que conseguimos é para comida e para aluguel”. Na casa, só ele conseguiu o auxílio emergencial – inicialmente R$ 600, depois R$ 300. Andrea, por falta de documentação, conta ele, ficou de fora.
Enquanto perguntava mais sobre sua família, percebi que Fábio estava ansioso para voltar ao sinal e garantir seus trocados. Encerrei a conversa. Assim, como ia interferir na renda de cada pessoa aqui entrevistada, uma vez que precisariam sair dos pontos para conceder entrevista, decidi contribuir com R$ 10 ou R$ 20 no fim de cada conversa. Nenhum deles, a não ser Ronald, me pediu qualquer valor. Não é uma questão confortável, como quase nada é nesse país.